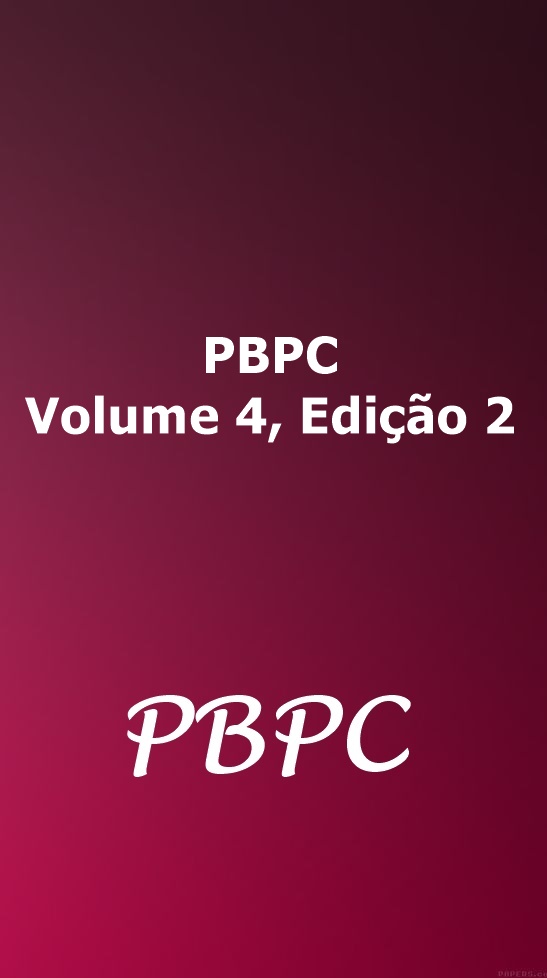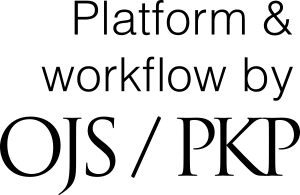A RELEVÂNCIA DO DESENHO FILOSÓFICO PARA A PESQUISA CIENTÍFICA
DOI:
https://doi.org/10.36557/pbpc.v4i2.376Resumo
Por mais que se tente dar uma definição exata da realidade, as tentativas de conceituações ainda se mostram insuficientes. Porém, numa perspectiva mais ampla, a realidade pode ser compreendida como um conjunto de estruturas (frameworks) que interagem por meio de redes de conexões complexas, formadas por entes visíveis e invisíveis que existem independentemente da percepção humana. Dentro desse contexto, os pressupostos filosóficos surgem com a finalidade de estudar e compreender as relações que ocorrem de forma intrínseca nos entrelaçamentos complexos dessas redes de interconexão. A partir de um desenho filosófico conceitualmente robusto, o pesquisador é capaz de intuir e deduzir concepções ontológicas, epistemológicas e axiológicas das estruturas internas da realidade. Daí a importância da função profícua da Ciência, que deve oferecer métodos investigativos adequados à compreensão da natureza da realidade. Os pressupostos científicos devem sempre estar baseados na observação, experimentação, formulação de hipóteses e testes rigorosos. Na verdade, é bom ressaltar que a Ciência não é a realidade em si, mas uma forma sistemática de tentar compreendê-la. Sendo assim, e dentro desse contexto, o presente artigo teve como objetivo mostrar a importância do desenho filosófico na construção do conhecimento científico. Para tanto, foi realizada uma revisão da literatura especializada, utilizando o Protocolo Prisma. Os resultados mostraram que o desenho filosófico exerce uma função semelhante à de uma “cosmiatria epistemológica”, sendo responsável por zelar pela beleza, pela forma e pela coerência na construção do conhecimento científico.
Downloads
Referências
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
Al Khzem, A. H. et al. Drug Repurposing for Cancer Treatment: A Comprehensive Review. International Journal of Molecular Sciences, v. 25, n. 22, 2024.
ARANHA, M. Lúcia. A; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2009.
ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Nova Cultural, 1991.
BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.
BACON, F. Novum Organum. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. A Construção Social da Realidade. Petrópolis: Vozes, 1985.
BHASKAR, R. Uma Teoria Realista da Ciência. São Paulo: Loyola, 2008.
CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.
CASSIDY, D. C. Uncertainty: The Life and Science of Werner Heisenberg. W. H. Freeman, 1992.
COLAIZZI, P. F. Psychological research as the phenomenologist views it. In: VALLE, R. S.; KING, M. (Eds.). Existential-Phenomenological Alternatives for Psychology. New York: Oxford University Press, 1978. p. 48-71.
COMTE, A. Curso de filosofia positiva. São Paulo: Abril Cultural, 1999.
DALLA DEA, R. P.; DEMO, P. Ética e pesquisa científica: uma abordagem crítica e reflexiva. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação, v. 10, n. 3, p. 512–529, 2020.
DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Orgs.). O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2018.
DERRIDA, J. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2005.
DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. São Paulo: Edições Loyola, 1996.
DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. Tradução de Eduardo Brandão. 2.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 483 p.
DRAKE, S. (1978). Galileo at Work: His Scientific Biography. University of Chicago Press.
EDWARDS, Allen L. Experimental Design in Psychological Research. 5. ed. New York: Harper & Row, 1985. 584 p.
FEYERABEND, P. Contra o Método. São Paulo: Editora UNESP, 2007.
FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 2008.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.
GUBA, E. G.; LINCOLN, Y. S. Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. 3. ed. Sage, 2005.
HABERMAS, J. Conhecimento e interesse. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1987.
HARAWAY, D. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, v. 14, n. 3, p. 575–599, 1988.
HARDING, S. Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives. Ithaca: Cornell University Press, 1991.
HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
HAWKING, S. A Brief History of Time. Bantam Books, 1988.
HORKHEIMER, M. Traditional and Critical Theory. In: HORKHEIMER, Max. Critical Theory: Selected Essays. Trad. Matthew J. O’Connell. Nova York: Herder and Herder / Continuum, 1972. p. 188 243. (publicado originalmente em Zeitschrift für Sozialforschung, vol. 6, n.º 2, 1937).
HOWARD, D. Einstein and the Development of Twentieth-Century Philosophy of Science. In: Z. Goldberg (Ed.), Einstein for the 21st Century. Princeton University Press, 1993.
HUSSERL, E. Investigações Lógicas. Petrópolis: Vozes, 2006.
KOYRÉ, A. Do mundo fechado ao universo infinito. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.
LADRIÈRE, J. A filosofia e a fundamentação das ciências. São Paulo: EPU, 1977.
LAKATOS, I. A Metodologia dos Programas de Pesquisa Científica. Lisboa: Edições 70, 1983.
LYOTARD, J. F. A condição pós-moderna. São Paulo: José Olympio, 1984.
MARTINS, J.; BICUDO, M. A. V. A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e recursos básicos. Paideia, v. 15, n. 30, p. 55-63, 2005.
MAYR, E. This is Biology: The Science of the Living World. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Tradução: Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.
MOORE, W. A Life of Erwin Schrödinger. Cambridge University Press, 1989.
MORIN, E. O Método 1: A natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2000.
Murdoch, D. Niels Bohr's Philosophy of Physics. Cambridge University Press, 1987.
NASCIMENTO, L. A. S. Etnografia reflexiva e cartografia da alteridade em comunidades quilombolas: saberes, trajetórias e espaços sociais. Resgate, v. 28, 2020.
NICOLESCU, B. O manifesto da transdisciplinaridade. São Paulo: Triom, 1999.
POPPER, K. R. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 2002.
PIAGET, J. A epistemologia genética. Tradução de Maria da Penha Villalobos. São Paulo: Abril Cultural, 1976. (Coleção Os Pensadores)
RAMOS, M. N. et al. Uma análise estatística multivariada do desempenho das escolas municipais de Ribeirão Preto. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, SP, USP Ribeirão Preto, v. 29, n.113, 2021.
RUSE, M. Darwin's Debt to Philosophy: An Examination of the Influence of the Philosophical Ideas of John F. W. Herschel and William Whewell on the Development of Charles Darwin's Theory of Evolution. Studies in History and Philosophy of Science, 6(2), 159-181, 1975.
RUSSELL, B. História do pensamento ocidental. São Paulo: Ediouro, 2001.
SAID, E. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
SCHUTZ, A. The phenomenology of the social world. Evanston: Northwestern University Press, 1967.
TILLICH, P. A Coragem de Ser. São Paulo: Loyola, 2002.
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2006.
VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
WESTFALL, R. S. Never at Rest: A Biography of Isaac Newton. Cambridge University Press, 1980.
WILSON, D. Rutherford: Simple Genius. MIT Press, 1983.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 CLEOMACIO MIGUEL DA SILVA

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Você tem o direito de:
- Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato para qualquer fim, mesmo que comercial.
- Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial.
- O licenciante não pode revogar estes direitos desde que você respeite os termos da licença.
De acordo com os termos seguintes:
- Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado , prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas . Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
- Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.